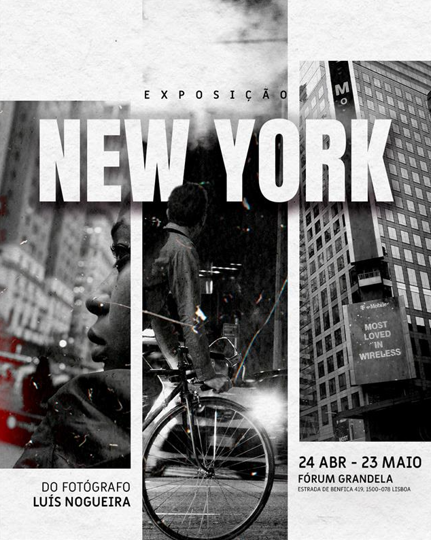Notícias
A nota (im)perfeita de Cate Blanchett
Mais um título de Óscares a chegar às salas. Tár, de Todd Field, não é prato para todos os gostos, mas a maestrina interpretada por Cate Blanchett (uma das favoritas à estatueta) e a batuta deste realizador raro não deixam margem para a indiferença. Um assombro de filme.

Transpondo a piada para o filme de Todd Field, a protagonista, Lydia Tár, será um pouco como Karajan: alguém que se acha uma espécie de Deus no seu próprio meio, embora tenha plena consciência da vulnerabilidade humana que não controla e tente mantê-la longe da vista dos outros. Mas ao compará-la no temperamento com o maestro austríaco, é preciso salientar que a personagem reclama Bernstein como o seu mentor. Esse regente que através da famosa série Concertos para Jovens, transmitida pela televisão, lhe deu as bases do significado da música, enquanto veículo de emoções, e que surge como referência desde os primeiros minutos, numa entrevista que desfia o currículo da dita maestrina como uma acumulação de glórias sustentadas por um talento inquestionável.
Parece que estamos a falar de uma mulher real - e é assim que Tár apresenta a sua (anti) heroína. Porém, para minimizar possíveis efeitos secundários do filme, importa deixar claro neste ponto que Lydia Tár é uma prodigiosa invenção de Field e de Cate Blanchett, aqui sua intérprete de corpo inteiro. Mais precisamente, Blanchett não é "o filme", como se gosta de dizer para simplificar, mas é uma atriz capaz de se fundir com a atmosfera elegante e malsã que Field cria como uma nota obsessiva.
Desde logo, na entrevista de abertura, o realizador lança as regras do seu jogo "provocando" o espectador com a duração (cerca de 15 min.) e especificidade erudita do assunto, que instalam o desconforto. "Estamos a lidar com o tempo", diz Blachett/Tár a dada altura, referindo-se, numa resposta, ao trabalho como maestrina. E o próprio filme vai encarregar-se de traduzir esse conceito de diferentes formas, por um lado, fazendo-nos sentir o tempo da queda dessa artista, então no auge, por outro, trabalhando as cenas com uma métrica musical interna e refletindo (sem dar respostas) os ares do nosso tempo... Naturalmente, uma das situações mais cristalinas da ambiguidade do filme é aquela em que Tár, convidada para uma masterclass na Juilliard School, depara com um aluno que diz não ouvir Bach por se identificar como "pessoa Bipoc pangénero". Ela tenta incentivá-lo, à sua maneira, a não julgar a música pela política de identidade (chega a chamar-lhe "robô"), mas a cena termina sem que nenhum dos intervenientes mereça um aplauso. Tudo em Tár se encaminha para uma abstração, quase viciante, que apenas sinaliza a cultura do cancelamento, sem oferecer sobre isso um pensamento mastigado.
Afinal, a artista em causa, que naquele momento da carreira está prestes a lançar a única sinfonia de Mahler em falta no seu currículo, para além de um livro (Tár on Tár), parece não se sentir confortável na sua pele. Ouve sons esquisitos à noite, deixa-se perturbar por um toque de campainha, tem a sensação de estar a ser espiada o tempo todo - e, deste lado, a nossa dúvida essencial passa pela perceção de uma monstruosidade que não deixa de nos compadecer. Ela é manipuladora para com a sua companheira (interpretada por Nina Hoss), mas não deixa de ser a mãe/pai que veste as calças e vai à escola da filha avisar outra criança bully que não se atreva a intimidá-la. Obviamente uma atitude pouco ortodoxa num adulto, mas que coloca a noção de "poder" em perspetiva.
É assim o tempo todo num filme de microagressões íntimas e de teor profissional que fazem estalar a superfície imaculada das imagens, lançando sinais de ligação à realidade, mas sobrepondo o enigma da experiência a qualquer discurso. Razão pela qual a Lydia Tár de Cate Blanchett não é uma personagem pacífica - a maestrina americana Marin Alsop foi a primeira a ver o filme como uma afronta pessoal (por algumas semelhanças biográficas), dizendo tratar-se de uma oportunidade perdida, ao fazer da mulher neste papel uma "agressora".
Este tipo de reação é, no mínimo, interessante, por assumir o cinema como uma arte inofensiva cuja qualidade se mede pelo grau de conforto que garante. Lá se vai o carisma de décadas dos vilões da história do cinema... E, no entanto, Tár não é uma vilã. Por vezes pode até ser uma "vítima" do pesadelo que configura o filme. Não há qualquer necessidade de Field se preocupar com questões de empatia. O seu projeto é uma procura pela sinfonia mais perturbadora, e tem em Blanchett uma aliada na pureza formal de tudo o que se vê: os seus gestos e expressão do rosto são notas precisas de um filme-monstro, com aceno a Kubrick. De resto, Field passou pela mão deste último como ator em De Olhos Bem Fechados (1999). E Tár é apenas a sua terceira longa-metragem, que dista 16 anos do filme anterior (Pecados Íntimos) - não subestimemos o poder de atração deste animal raro, e ferido.
por Inês N. Lourenço in Diário de Notícias | 9 de fevereiro de 2023
Notícia no âmbito da parceria Centro Nacional de Cultura | Jornal Diário de Notícias


 Divulgue aqui os seus eventos
Divulgue aqui os seus eventos