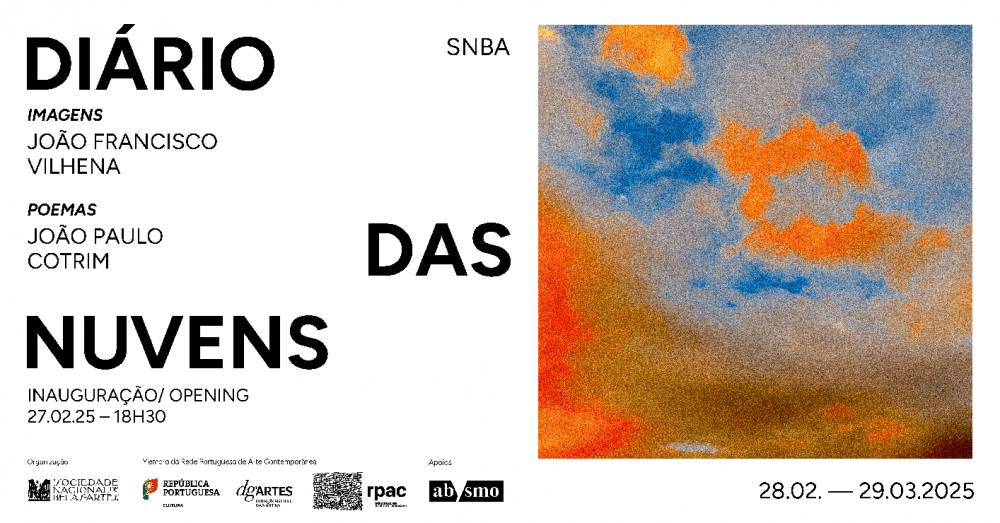Notícias
O FEST parte de Espinho à conquista do Porto e de Lisboa
Condicionada pela pandemia, a edição de 2020 do FEST de Espinho centra-se mais nas projeções de filmes e estende-se, pela primeira vez, a salas do Porto e de Lisboa.






O FEST (Festival Novos Realizadores Novo Cinema), que há vários anos anima os verões de Espinho, tem em 2020 uma edição forçosamente condicionada pelos tempos pandémicos. Na edição deste ano, que começa este domingo e se prolonga até dia 9, não se realiza, por exemplo, aquela que com o tempo se tornou uma das principais atrações do festival, o seminário, ou workshop, que em anos recentes trouxe a Espinho alguns nomes importantes do cinema contemporâneo (como, por exemplo maior, o realizador húngaro Béla Tarr), e a programação está muito mais centrada nas projeções de filmes. Que decorrerão também em circunstâncias especiais, parte delas num drive-in estritamente preparado para acolher as sessões do festival e com capacidade, segundo a organização, para acolher quarenta automóveis. A outra parte das sessões, nas condições tradicionais de uma sala de cinema fechada, transfere-se (o que também é uma novidade) para as cidades do Porto e de Lisboa, com as projeções a decorrerem nas salas do Cinema Trindade (Porto) e do Cinema Ideal (Lisboa).
Entre as secções competitivas, a mais destacada é a competição internacional de longas-metragens, a que o FEST chama o Lince de Ouro, e que reúne dez filmes, três deles documentários, num programa sedutoramente curto. A seleção, de que pudemos espreitar a maior parte dos filmes, é interessante e cuidada, diversificada e coerente – e também nos faz pensar em como, apesar dos esforços dos valentes “mavericks” da distribuição portuguesa (nem sempre devidamente reconhecidos, como o provam acontecimentos dos últimos dias), às salas comerciais do nosso país continua a escapar tanta coisa que merecia ser vista mas tem o caminho tapado pela trigésima cópia dum “blockbuster” qualquer.
Comecemos, então, este breve percurso pela competição internacional de longas com Papicha, de Mounia Meddour, filme franco-argelino que reflete, porventura autobiograficamente, o que foi a experiência da adolescência feminina na Argélia dos anos 90, tempos de guerra civil vividos na ameaça opressiva do fundamentalismo islâmico. O que é mais notável no filme de Meddour (que já este ano ganhou o César de melhor Primeira Obra), cheio de cores, ritmo e “lust for life”, é nunca pedir a piedade do espectador, nunca se conformar com a vitimização e, pelo contrário, encontrar nas suas personagens e nos ambientes em que elas circulam (inapelavelmente “modernos": os circuitos da moda) uma vibração que é sempre uma afirmação de vida aposta às dificuldades e às pequenas ou grandes tragédias que espreitam ao caminho. É um belo filme, conjugado no feminino, como mais alguns outros da seleção.
Por exemplo, Jumbo, de Zoé Whittock, história franco-belga de descoberta e amadurecimento, protagonizada por Noémie Merlant, que alguns espectadores reconhecerão como uma das atrizes principais do Retrato de uma Rapariga em Chamas, de Céline Sciamma, estreado em Portugal no princípio do ano. Tomada à letra, a intriga é um pouco bizarra: a rapariga, empregada num parque de diversões, apaixona-se (é o termo) pela espécie de carrossel que é a última novidade do parque; mas, sem excluir algum jogo com o absurdo (mesmo um tanto “kinky”) é evidente que o filme trata de outra coisa, de um sentimento de não-pertença ou de não-adaptação ao mundo das relações sociais, sem que a relação com o carrossel se torne “metáfora” do que quer que seja.
Outro filme feminino é Maternal, da italo-argentina Maura Delpero, que do país de adoção absorveu o estilo – é completamente “escola argentina” no seu cruzamento de tortuosidade psicológica e realismo descritivo. A aspereza do catolicismo sul-americano é um dos pontos do filme, que narra a relação entre uma noviça, duas raparigas internadas num refúgio tutelado pela igreja, e a filha recém-nascida de uma das raparigas. Para além de uma reflexão sobre a maternidade (como facto e como sentimento), é um filme que, no seu vai-vem, usa as personagens para medir a temperatura à sociedade argentina, aos seus desequilíbrios sociais e violências intrínsecas.
Dum pouco mais a norte (Brasil, Rio de Janeiro) vem Pacificado, de Paxton Winters, que é um olhar, não miserabilista, sobre a vida nas favelas “modernas” – quer dizer, durante a intervenção policial nas favelas do Rio, em preparação para os Jogos Olímpicos de 2014, a que com acintosa pompa se chamou “pacificação”. Ao sentimento de opressão da vida numa favela junta-se a opressão trazida pelo cerco policial; e o filme valerá como testemunho: o realizador Paxton Winters concebeu o filme em colaboração com moradores do Morro dos Prazeres, que são também os protagonistas, e desse processo trouxe uma impressão de genuinidade que raramente ou nunca soa a falso.
Patrick, de Tim Mielants, tem algumas afinidades com o outro filme belga da seleção (Jumbo): também aqui há uma personagem que, num universo peculiar (um campo de nudistas) passeia a sua incapacidade emocional de relacionamento com seres humanos – o pai dele morreu, mas o protagonista Patrick, zelador do campo, parece mais perturbado com a perda de um martelo essencial ao seu trabalho. Mas talvez se conforme mais à bizarria da sua premissa do que Jumbo (embora os dois juntos formem um retrato assaz intrigante da Bélgica contemporânea).
Num extremo emocional se coloca também Babyteeth, do australiano Shane Murphy, narrando a relação entre uma adolescente com um cancro terminal e um rapaz marginal. Entre romantismo e niilismo, entre a compaixão e a atitude “punk”, o filme desarruma a classe média e os subúrbios tristonhos de uma grande cidade (Sydney), no que é, muito possivelmente, o seu verdadeiro alvo.
Depois, os documentários. Em Meanwhile on Earth, o sueco Carl Olsson revela-se um discípulo de Roy Andersson no seu olhar, feito de mordacidade e empatia, sobre o estádio final da vida humano: o momento em que há um corpo para entregar a uma agência funerária. Filmando os rituais do luto e os rituais profissionais do negócio funerário, Olsson compõe uma reflexão sobre a relação com a morte das sociedades modernas (ou especialmente, da sueca, com que casa bem o humor, por vezes um pouco auto-complacente, que Olsson extrai de situações que filma).
E The Earth is Blue as an Orange, da ucraniana Irina Tsylyk, traz-nos testemunho de traumas contemporâneos: a vida em Donetsk durante aquele misto de guerra civil/invasão russa que ainda sacode boa parte do território ucraniano. Entre o documento e a encenação (ou fazendo da encenação um documento: o tema do filme é a sua própria feitura) desenha-se o registo de uma relação familiar (uma mãe e as filhas pequenas) enquanto se ouvem as bombas a explodir e sair de casa é uma aventura perigosa – e isto, este contorno familiar, sobrepõe-se ao “conceito”.
por Luís Miguel Oliveira in Público | 2 de agosto de 2020
Notícia no âmbito da parceria Centro Nacional de Cultura | Jornal Público


 Divulgue aqui os seus eventos
Divulgue aqui os seus eventos