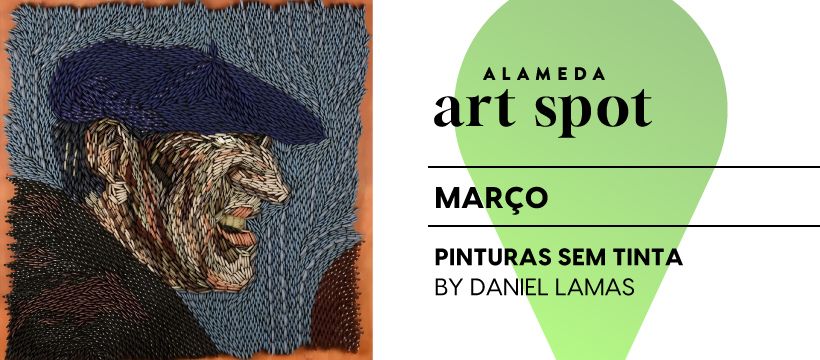Notícias
Ver o Convento de Cristo a partir da farmácia
Uma nova exposição viaja do século XII ao XIX pela botica deste convento de Tomar que começou por ser castelo. E mostra como ali a ciência se misturava com a religião, as crenças populares e a paisagem. Pelo meio há uma sala que é um mistério.




É um espaço estranho, mas que causa impacto, sobretudo tendo em conta que faz parte de uma ala vazia do Convento de Cristo, em Tomar, hoje inacessível aos milhares de visitantes que este monumento, complexo e extraordinário, recebe todos os anos. Chamam-lhe Sala da Bela Vista e fica precisamente entre a antiga botica daquela casa religiosa que começou por ser um castelo templário e a enfermaria onde os frades se ocupavam dos doentes. Passadas centenas de anos, ainda ninguém sabe ao certo que fim teria esta divisão. Seria uma sala de operações ou de reunião? Seria para rezar ou teria qualquer outro propósito ritual? Para quê um espaço com tanto aparato, de teto pintado, ali mesmo ao lado da farmácia (é só no século XIX que a botica passa a chamar-se assim) onde os monges preparavam xaropes e pomadas, elixires e unguentos?
“Esta sala continua a ser um mistério para nós. Estamos longe de saber para que é que servia, só temos suposições”, admite a diretora deste conjunto arquitetónico, Andreia Galvão, chamando a atenção para um facto curioso: “Aqui o número oito está muito presente – no chão, no teto do século XVII -, tal como na charola [o oratório privativo dos cavaleiros da Ordem de Cristo, que ali tinham a sua sede desde 1160], que é uma das grandes joias desta casa. O número oito está associado à ressurreição, a qualquer coisa que recomeça.”
A pintura sobre madeira do teto, onde se pode ler uma inscrição em latim que para muitos seria certamente pouco tranquilizadora e cuja tradução é qualquer coisa como “a morte todos os males cura”, também pode ter significados religiosos. Forma um emaranhado de plantas e flores que estão, em boa parte, associadas à vida de Cristo e ao culto a Maria, sua mãe. Há muitas rosas, por excelência o símbolo de Nossa Senhora, mas há também cravos (representam o amor infinito de Maria por Jesus), junquilhos (triunfo da vida eterna sobre a morte), tulipas (a graça divina e a fragilidade dos bens terrenos) e anémonas (crucificação). “Há uma mistura de significados que torna ainda mais difícil ter certezas sobre o que aqui se passou ao longo de centenas de anos”, acrescenta esta arquiteta que dirige o monumento desde 2014, caminhando pela antiga botica que agora serve de ponto de partida à nova exposição do convento, A Botica do Real Convento de Thomar (até 8 de julho de 2017), esperando que ela ajude quem o visita a compreender melhor o que vê.
“Queremos que esta exposição contribua para explicar um monumento que é muito, mesmo muito difícil de entender porque tem várias épocas sobrepostas e acumula funções”, diz. Para isso, num ou noutro núcleo há peças ou painéis que convidam a olhar para fora, para o Jardim da Botica e a Horta dos Frades, para a mata e o pomar, para a igreja e o aqueduto – “um luxo naquele tempo” –, e para a própria paisagem que a presença dos frades ao longo dos séculos ajudou a moldar. Um deles mostra precisamente até que ponto é que o convento e os monges reconfiguraram a natureza ao longo dos séculos dentro e fora dos seus próprios domínios, ensinando os agricultores a preparar os terrenos para o plantio, introduzindo novas espécies vegetais e explicando que árvores conviviam melhor umas com as outras.
No balcão do boticário
No centro d’A Botica do Real Convento de Thomar está a recriação do que seria a farmácia do convento, com dezenas de potes de xaropes do século XVII saídos da sua coleção e do acervo do Museu da Farmácia, um em cada pequeno nicho. No balcão do boticário há uma balança com pesos naturalmente pequenos para dosear os preparados e almofarizes para esmagar sementes, folhas e grãos. E porque as antigas botica e enfermaria são numa zona do monumento que não se pode percorrer e que resultou das obras ali feitas por Filipe II de Espanha (I de Portugal, 1527-1598), rei que muito investiu no convento e a quem se deve o começo do seu aqueduto, há fotografias à disposição. Foi nessa área que funcionou entre 1909 e 1993 um hospital militar, prolongando a tradicional ligação das populações da região àquele conjunto arquitetónico que já teve muitos usos e que é património mundial desde 1983.
“A botica é o primeiro interface de contacto dos frades com a comunidade, ao mesmo tempo que é uma garantia de sustentabilidade da casa conventual”, diz a diretora, explicando que a atual exposição reúne mais de 200 peças das coleções dos conventos de Cristo e de Mafra, assim como dos museus do Azulejo, de Arqueologia, de Arte Antiga e da Farmácia. O objetivo, diz, é mostrar como a farmácia evoluiu ao longo dos séculos naquele contexto religioso.
Pouco ou nada se sabe da que terá sido instalada no convento à data da sua formação. Explica Paula Basso, investigadora e diretora-adjunta do Museu da Farmácia, que existiria ali uma botica desde o século XII, mas que só a partir de D. João III (1505-1557) está mais documentada, pelo menos a avaliar pelos registos que hoje se conhecem. O seu período áureo começa no século XVI e intensifica-se nos dois seguintes, vindo depois a viver tempos muito difíceis com as invasões napoleónicas, quando as tropas do general André Massena (1758-1817) a destruíram.
“Logo no século XII os frades prestavam assistência aos pobres e aos doentes, mas é só depois dos Filipes que a botica do convento ganha mais expressão e se torna uma das mais importantes do país”, diz a conservadora que muito contribuiu para esta exposição, comparando-a às dos mosteiros de Coimbra e de São Vicente de Fora, em Lisboa. “Os preparados que aqui se faziam serviam também para alimentar boticas laicas espalhadas pelo país”, acrescenta Andreia Galvão. “A produção era muito informada e nos séculos XVI/XVII passa a incluir elementos de outras botânicas, as dos territórios ultramarinos.”
A maior entrega dos frades a esta atividade começara provavelmente em 1420, quando o Infante D. Henrique decide transformar o Castelo Templário ali fundado em 1160, sede da Ordem de Cristo, num espaço capaz de acolher os religiosos dados à contemplação e à oração que ele, enquanto seu governador, introduz nesta milícia que herda a matriz da extinta Ordem do Templo, composta por monges-cavaleiros.
“O grande investimento é feito com D. João III, que manda construir uma botica e uma enfermaria”, diz Paula Basso, isto numa altura em que as farmácias conventuais começavam a afirmar-se como grandes instituições técnico-científicas, muito mais avançadas que as chamadas boticas laicas. “Numa casa como esta os frades tinham mais meios para as suas investigações, tinham acesso a uma boa biblioteca, a informação. O facto de produzirem todos os preparados em grande quantidade também lhes permitia aperfeiçoarem-se com mais facilidade.”
Inicialmente, a farmacopeia (tratado sobre preparação dos medicamentos) a que recorriam era a galénica, baseada sobretudo no uso de espécies vegetais e animais, mas no início do século XVIII a situação alterou-se. Explica a investigadora que, em 1711, a segunda edição da Farmacopeia Lusitana, o primeiro formulário em língua portuguesa criado pelo boticário do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra em 1704, já introduz os medicamentos químicos, que implicam outros compostos e processos, como a destilação e a sublimação. “Tudo isso seria feito também no Convento de Cristo porque os frades acompanhavam o que a ciência ia descobrindo”, garante, explicando que esta autêntica revolução farmacêutica implicou uma nova abordagem ao próprio corpo humano e à doença. “Os medicamentos químicos começam a ser mais específicos, a atacar a causa da doença. Os anteriores chegavam a ser como panaceias, davam para tudo.”
A farmácia do barroco
No século XVIII, as boticas perdem também o seu ar mais austero e transformam-se em espaços cenográficos, em que o “esplendor científico” convive com o “esplendor dos dourados, da cor, da elegância” próprio do barroco, diz Andreia Galvão, que nos últimos dois anos tem vindo a recuperar das reservas do convento uma série de peças que depois são integradas no percurso visitável. “O móvel de madeira com que recriámos parte da botica, o que guarda os potes de xaropes do século XVII, estava encostado a um canto. Foi todo restaurado pelo Instituto Politécnico de Tomar [IPT], com quem temos uma parceria impagável, e que em breve vai começar a trabalhar na nossa coleção de escultura em pedra, que depois também será exposta.” Isto porque, para Andreia Galvão, um monumento tão complexo como o Convento de Cristo, “um autêntico livro de história da arquitetura e das artes, de história de Portugal e da Europa, uma verdadeira cidade”, tem de funcionar em contínuo como um laboratório de investigação em várias frentes.
Na exposição já se pode ver o resultado do trabalho em escultura do IPT num São Brás do século XVI, que saiu das reservas completamente enegrecido e que hoje exibe um manto carmim. De São Brás se esperava que resolvesse as maleitas da garganta, fica a saber quem lê a lista de apelos à cura pelos santos no primeiro dos sete núcleos que compõem A Botica do Real Convento de Thomar. São Filipe era remédio para os terramotos, Nossa Senhora da Piedade para a contrição das lágrimas e Santa Apolónia, aparentemente mais pragmática, ocupava-se das dores de dentes.
Neste pequeno espaço que abre com uma evocação da Ressurreição de Lázaro, uma das pinturas atribuídas a Jorge Afonso (c. 1475-1540) e à sua oficina que adornam a charola, há ainda figas e outros amuletos, assim como um curioso conjunto de ex-votos que pertenceu ao etnólogo e arqueólogo Leite de Vasconcelos. “Para muitas das pessoas daquele tempo, parte da cura passava por uma série de superstições e muitas rezas”, como aquelas que se encontram nos testemunhos filmados de mulheres que, naquele território, ainda recorrem a ensinamentos antigos para afastar uma dor de barriga ou resolver um entorse com agulha e linha.
Mas, a avaliar pelos instrumentos de uma sala em que a exposição recria um quarto de enfermaria, os frades faziam bem mais do que rezar para tratar dos seus pacientes. Na vitrine há uma espécie de biberon para acamados, uma bacia para as sangrias (retiravam sangue para que ele se renovasse, substituindo o que acreditavam estar doente), um clister do século XVIII (quem tiver dúvidas como se aplicava, há um painel de azulejos na parede que ensina a fazê-lo), um perfumador e um pote onde guardavam sanguessugas. E isto vê-se depois de se ter lido um documento do século XIX em que se fica a saber quanto ganhava o boticário, o cirurgião e o barbeiro.
“É um mundo muito complexo em que a ciência se mistura com a religião, a natureza, a arquitetura, crenças populares e até a paisagem”, conclui Andreia Galvão. O que não surpreende. No Convento Cristo as coisas não costumam ser fáceis de explicar.
por Lucinda Canelas, in jornal Público | 9 de agosto de 2016
no âmbito da parceria Centro Nacional de Cultura | Público


 Divulgue aqui os seus eventos
Divulgue aqui os seus eventos