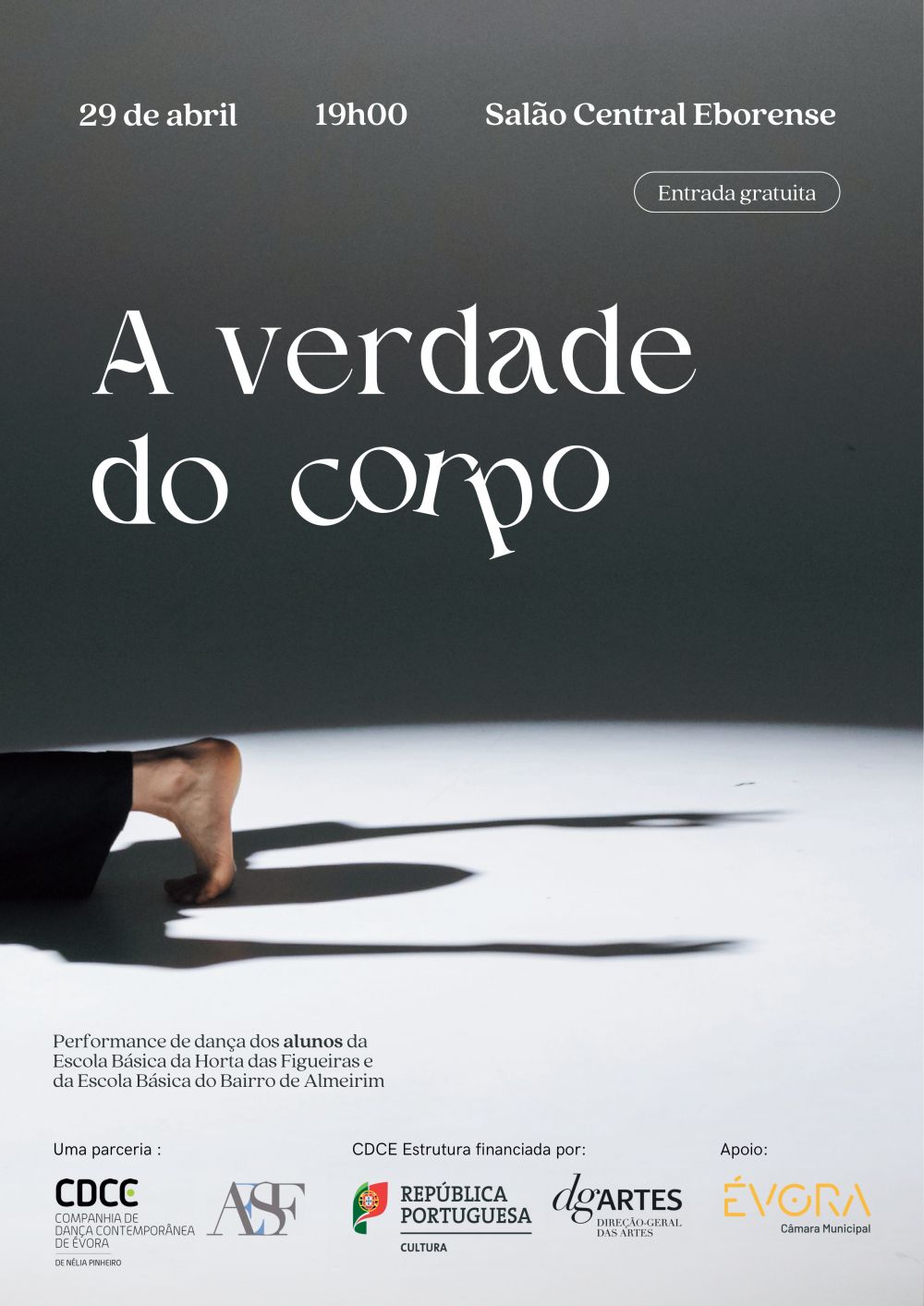Cinema
Outsiders – Cinema Independente Americano

Introdução ao programa, por Carlos Nogueira [programador]
À partida, um filme independente seria o oposto de um filme de Hollywood. Para simplificar, enquanto este ultimo movimenta orçamentos gigantescos, o outro custa relativamente pouco; um destina-se essencialmente a entreter, o outro procura interpelar o espetador; um evita tomar partido em questões politicamente sensíveis, o outro é muitas vezes explicitamente crítico; um recorre a fórmulas estereotipadas, o outro procura transmitir um ponto de vista personalizado. Ou seja, um cineasta independente seria, por escolha própria, um outsider (por oposição ao insider de Hollywood), a fim de manter a sua liberdade criativa.
Na realidade, as coisas são bem mais complexas… Que dizer dos grandes realizadores de Hollywood, passado e presente, que conseguiram transmitir a sua visão do mundo, apesar da máquina industrial ou mesmo graças a ela? Ou dos cineastas independentes que soçobraram a uma formatação indie, ou, então, que não resistiram ao aceno dos estúdios? O sistema de produção independente pode oferecer a quem tiver dedos para as aproveitar mais garantias de realização de um filme pessoal, sem necessitar de ceder a concessões de natureza vária, e de conservar o controlo da obra, seja durante a produção, seja na fase de distribuição e exibição.
A tarefa não é forçosamente fácil e requer uma enorme dose de perseverança, mas a verdade é que raramente assistimos como hoje a uma proliferação tão grande de focos de criatividade no terreno, outrora demasiado ingrato, do cinema independente.
A história do cinema independente nos Estados Unidos é praticamente tão velha como a do próprio cinema. Aliás, se bem que hoje “cinema independente” se defina praticamente como a antítese de Hollywood, poucos sabem que Hollywood nasceu como uma rebelião dos “independentes” contra a Motion Picture Patents Company ou “Edison Trust”, que detinha as patentes da matéria-prima. Em pouco mais de uma década, porém, as companhias que se haviam deslocado para a costa oeste a fim de se dedicarem à produção longe da alçada da MPPC, urdiram o seu próprio sistema de produção, distribuição e exibição, que ficaria para a história como o studio system, e que substituiria o monopólio Edison pelo oligopólio hollywoodiano.
O sistema de estúdios e a sua complexa mas extremamente controlada estrutura dominou a indústria cinematográfica americana durante mais de três décadas, deixando pouco ou nenhum espaço para a produção independente.
A partir da década de 50, porém, depois da famosa decisão judicial anti-trust, que obrigou os estúdios a abandonar a atividade de exibição, a porta ficou aberta para o aparecimento da produção independente. Nos anos 60 surgiram os primeiros “movimentos” ou grupos, mais ou menos informais, de cinema alternativo ao cinema “comercial”. John Cassavetes, por um lado, e Roger Corman, por outro, foram algumas das figuras que dinamizaram o cinema independente americano nessa época.
O moderno cinema independente americano data de meados dos anos 80, em grande medida graças à dinâmica imprimida pelo festival de Sundance, e surge com uma intenção explícita de se rebelar contra o modelo de cinema dominante.
À medida que os realizadores desta primeira vaga indie, muito ligada às franjas culturais de Nova Iorque, enveredavam por percursos divergentes, que incluíam a aproximação a Hollywood (os Coen, Soderbergh), os circuitos marginais de natureza diversa (John Waters, Sara Driver) ou o ensaio cinematográfico (Mark Rappaport), uma nova vaga de cinema “artesanal” se perfilava: Richard Linklater, Alexander Rockwell, Wes Anderson. Era o início da década de 90, surgiam novos polos criativos (Austin, Boston), apareciam também novos festivais como rampas de lançamento.
Os avanços tecnológicos tiveram, na viragem o milénio, papéis não negligenciáveis no recrudescimento do cinema independente. A disponibilização, a preços abordáveis, das câmaras digitais veio provocar uma verdadeira revolução cultural: pela primeira vez na história da 7ª arte, estava ao alcance de qualquer bolsa média, e com uma qualidade realmente concorrencial, a possibilidade de fazer um filme de longa-metragem no backyard, com os amigos ou os colegas da faculdade, por muito pouco dinheiro. E mais: a Internet vinha abrir um circuito de distribuição completamente novo para estas obras.
A terceira vaga indie, surgida nos anos 2000, agarrou, pois, com avidez, entusiasmo e criatividade as novas oportunidades. Mantém grande parte dos traços que caracterizaram os seus elders (embora acrescente os seus próprios — linhas narrativas em torno das ansiedades de jovens pós-universitários, recurso a atores não profissionais, diálogo quase sempre improvisado), revê-se frequentemente como herdeira do legado e assume uma variedade que resiste, tal como as anteriores, às classificações de “movimento”.
A essa diversidade artística correspondeu também uma diversidade de receptividade muito acentuada. Se é verdade que alguns cineastas, identificados ou não com o rótulo mumblecore, alcançaram certa notoriedade nos circuitos indie, muitos outros não tiveram a mesma sorte, incluindo dentro dos Estados Unidos.
Em Portugal, a programação alternativa não foi especialmente atenta; limitou-se, quase sempre, a seguir uma certa tendência internacional. Andrew Bujalski e os irmãos Safdie foram regularmente exibidos, é certo, mas são muitos os outros nomes importantes desta vaga indie que escaparam ao radar dessa programação. Lena Dunham deve a reputação que por cá tem à série Girls: nenhum dos filmes que realizou foi exibido em Portugal. De Joe Swanberg, um dos nomes maiores do mumblecore e um dos mais prolíficos cineastas contemporâneos (20 longas-metragens assinadas em menos de 15 anos), apenas foi exibido um filme. Nunca tiveram estreia nacional as primeiras longas de Eliza Hittman e Amy Seimetz. Foi preciso o óscar para que se ouvisse falar de Chloe Zhao. Cineastas da importância de Frank V. Ross, Patrick Wang ou Bill e Turner Ross são totalmente desconhecidos. Invisível permanece grande parte da obra de Robert Greene…
O trabalho de divulgação desta geração de independentes está, pois, em grande parte, por fazer.
A exibição, pela primeira vez em Portugal, deste conjunto de obras vem permitir preencher lacunas, estabelecer pontes e reencontrar elos perdidos. Os outsiders estão aí, prontos a conquistar o lugar que há muito lhes era devido.
Carlos Nogueira, Programador
março 2022
Nota biográfica - Carlos Nogueira
Depois de um percurso profissional variado, com passagens pela docência de História, pela tradução e, ocasionalmente, pela crítica cinematográfica, nos últimos anos passou a dedicar-se exclusivamente à cinefilia. Entre as suas atividades contam-se a edição de O Cinéfilo Invertebrado, blog dedicado à cobertura de alguns festivais de cinema, a colaboração no suplemento Ípsilon do jornal Público e a curadoria. Participou no projeto Próximo Futuro, organizado pela Fundação Gulbenkian, integrou o comité de seleção de longas-metragens do festival IndieLisboa, programou a Mostra de Cinema Ibero-americano no âmbito da iniciativa Passado e Presente - Lisboa, Capital Ibero-americana de Cultura 2017, foi co curador da Kino – Mostra de Cinema de Expressão Alemã, organizada pelo Goethe Institut, e desde 2019 organiza e programa a mostra Europa 61 – Semana de Cinema Europeu (Porto).


 Divulgue aqui os seus eventos
Divulgue aqui os seus eventos